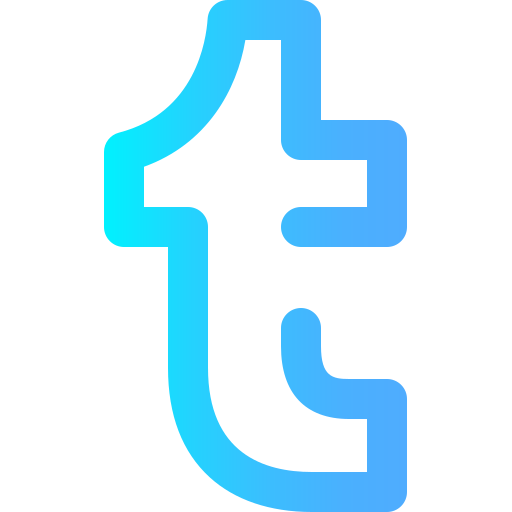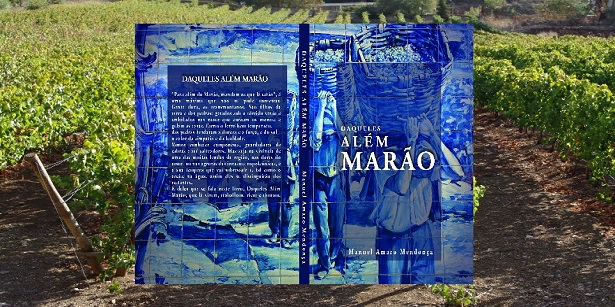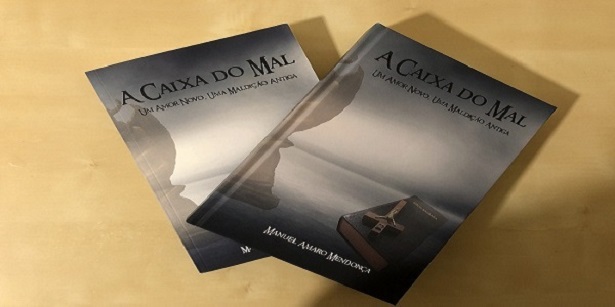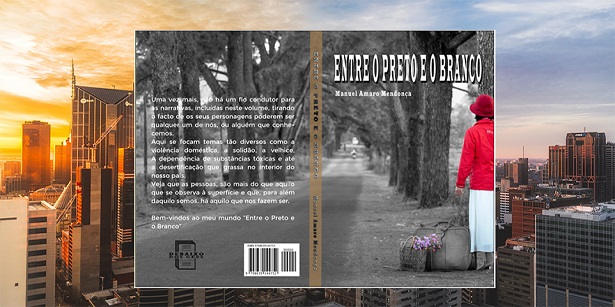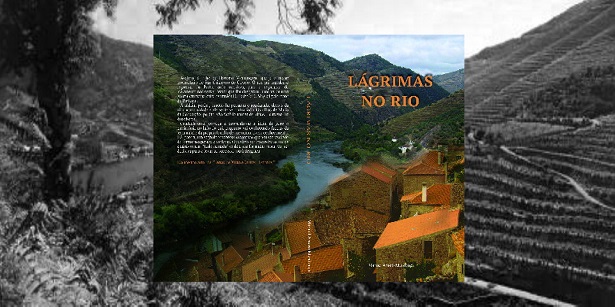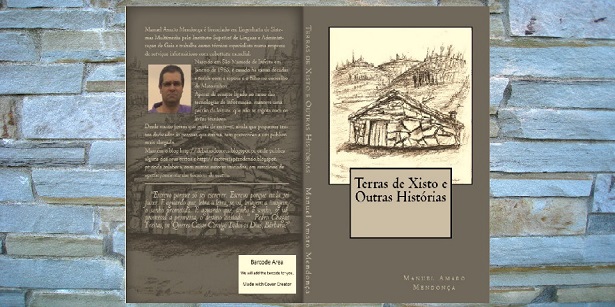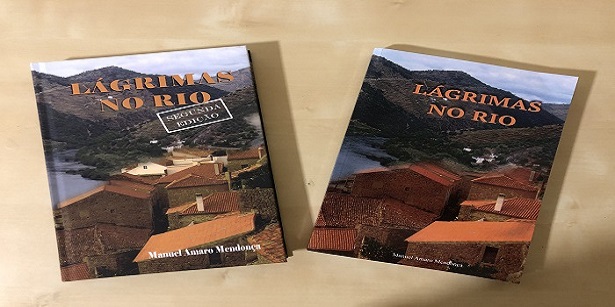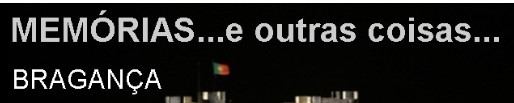Este texto é uma obra de ficção. Embora possa incluir referências a eventos históricos e figuras reais, a história, os diálogos e as interpretações são fruto da imaginação do autor. Qualquer semelhança com pessoas, vivas ou mortas, é mera coincidência.
Faustina acordou com um estremeção. O quarto onde se
encontrava estava na penumbra; ainda a noite ia alta. Quase não se conseguia
mexer, com a enormidade de mantas que tinha em cima de si, mas, cada vez que
acordava, sentia o frio que lhe mordia o corpo. Teve sede e, com dificuldade
arrastou os 92 anos que lhe pesavam nos ossos e desceu da cama alta, para as
alpercatas que a esperavam no chão de soalho.
Era uma mulher magra e engelhada, envergando a camisa de
dormir puída, mas grossa, sobre umas calças de pijama azuis, já coçadas. A
cabeleira alva caía-lhe sobre as costas, confundindo-se com a camisa. Embrulhou
os ombros com uma das mantas, que levantou com esforço.
Tateou a parede junto à cabeceira da cama de ferro para
pegar o pau que lhe servia de bengala. Não acendeu a vela no criado-mudo e serviu-se
da escassa luminosidade que chegava da cozinha, para ver o caminho. Arrastou-se,
mais do que caminhou, pela porta estreita, contrariando as fortes tonturas que
a atormentavam.
A espaçosa divisão tinha mais luz que o quarto; escoava-se
pelas aberturas das enormes telhas de ardósia que se divisavam acima do
travejamento despido do teto e pelas generosas frestas da porta da habitação.
Uma robusta mesa de madeira maciça e alguns bancos, ocupavam um dos lados, onde
sobressaía um imponente escano, vestígios dos tempos em que aquela era uma casa
cheia. No lar[1],
brilhavam algumas brasas envergonhadas, vascas da fogueira do dia anterior. O
vento assobiava pelas frestas e a velha cortina que tapava a única janela,
oscilava com a corrente de ar.
Apertando a manta em volta do pescoço e sempre tremendo de
frio, Faustina contraiu o rosto enrugado ao beber a água gelada do púcaro de
alumínio. Uma coluna de vapor soltou-se do seu hálito.
Hesitante, caminhou até à porta e abriu a metade superior,
sendo brindada com vários flocos de neve que esvoaçaram para dentro.
As escadas e a rua da aldeia, eram um tapete branco. As
casas em frente estavam decoradas com alvos mantos, nas estruturas destelhadas
e derruídas e as janelas eram negros olhos que a fitavam, inertes. O silêncio
absoluto só era perturbado pelo tilintar dos vários espanta-espíritos,
pendurados na borda do telhado e pelo vento e o sussurrar permanente dos
pinhais em volta. Para além das casas, distorcido pelos farrapos de algodão
esvoaçante, o imponente Marão velava sobre o casario e a paisagem, numa vigília
que começara no princípio dos tempos.
Tremendo descontroladamente, a comprimir as gengivas, quase
desdentadas, para que não batam, cerrou a porta e apressou-se a regressar à
cama.
Uma cabrita baliu na loja[2],
sentindo o caminhar da proprietária.
Encolheu-se de novo debaixo da montanha de roupas e apertou,
o mais que pode, os joelhos esquálidos contra o peito, enquanto se agitava em
tremores. Sentia o bafo fervente nas mãos, contrastando com o frio que sentia.
Estava doente!
Tossiu convulsivamente. Não se recordava a última vez que
esteve doente, mas já começara a suspeitar com o frio que sentia e as tonturas
que a assombravam há vários dias. Se pensasse bem, também já vinha a notar
fraqueza e falta de apetite há mais de uma semana e nestes últimos três dias,
piorara a olhos vistos. Tossiu novamente, terminando com vómitos e os olhos
cheios de lágrimas… vomitar o quê, se há dois dias que estava só a água?
Se calhar devia ter aceite a oferta do jovem caçador, que
ali passara antes do nevão, para a levar à vila, ao médico. Sorriu de si para
si, enquanto se encolhia mais para baixo dos lençóis gelados. Os caçadores eram
uma boa companhia, apareciam, conversavam um pouco, dividiam a merenda com ela
ou comiam um pouco do pouco que ela por lá tinha e havia sempre uma garrafita
de vinho, um bocado de presunto, ou salpicão para dividir com eles, trazidos
pelo bom senhor Fonseca. O carteiro, agora reformado, nunca deixou de a
visitar, mesmo depois de já não ter obrigação de trazer cartas, porque ao fim e
ao cabo, já nem carteiro lá ia. Era uma excelente pessoa e trazia-lhe os bens
essenciais, pagos com os dinheiritos que fazia a vender uns ovos, frangos e um
ou outro cabrito aos caçadores ou caminheiros que por ali passavam.
Contentava-se com pouco, não precisava de muito dinheiro.
Mesmo o vinho durava-lhe muito tempo, não bebia todos os dias e a carne, comia
pouca, eram mais os legumezitos que conseguia arrancar da horta nas traseiras,
mais ou menos abrigada dos frios da serra. Estes dias, porém, não conseguira
sequer levar as cabritas, nem dar de comer às galinhas. "Pobrezinhas,
devem estar a estranhar não me verem." Uma lágrima correu do canto do
olho.
Também a GNR a visitava, de tempos em tempos e trazia as
coisas que ela pedia, na ronda seguinte. Normalmente o cabo Gonçalves, de
poucas falas, mas bom rapaz e a guarda Salomé, uma menina muito querida, que a
tratava por avó Tina, vinham bater-lhe à porta e perguntar se estava tudo bem.
Eram as únicas quebras de rotina naquele mundo perdido na serra e esquecido por
Deus… e pelo Diabo.
O rosto iluminou-se-lhe com a recordação da aldeia cheia de
gente, na sua infância e juventude. Parecia que ainda se estava a ver, cântaro
na mão, com o vestido aos quadrados, que já fora da sua irmã, a correr descalça
pelo empedrado da rua, até à fonte. Ali, pegava-se invariavelmente com a Micas
do porqueiro e com a Ana da Chã, mas tinha sempre a ajuda da irmã, a Joaquina e
da vizinha Luísa, contra aquelas duas invejosas.
"A querida Luísa… era tão bonita e tão carinhosa. Tive
tanta pena quando se casou e foi embora para Angola com o marido. Será que
ainda é viva?"
Quando chegava a casa, a mãe gritava com ela porque vinha
suja e molhada e o pai, se não estivesse embriagado, defendia-a sempre. Era uma
casa cheia, esta mesma casa onde vivia. O pai e a mãe dormiam no quarto, ela e
a Joaquina, junto da mesa, mais próximo do lar e os quatro rapazes do outro
lado da cozinha. A maior parte das vezes, porém, eles preferiam dormir no
palheiro onde ficava o burro, que era mais quente.
E as festas que se faziam naquele povo… havia sempre o
"ti" João com o harmónio, o Celestino ferreiro, com a gaita de foles
e o "Zé tolinho" com o tambor; faziam uma algazarra tal, que ecoava
nos montes, invocando as povoações em redor. O Tino ferreiro era uma estrela,
não só ali, como pelos povos em redor. Ficava-se hipnotizado a ouvir as músicas
que tocava, algumas de sua autoria. Mas era um maroto: habituado a apertar os
foles, estava sempre de mão lampeira para apertar peito macio ou rabo rijo. Uma
vez, também ela lhe sentiu o aperto numa festa e só não lhe acertou uma valente
"tapona", porque o facínora, treinado que estava nestas andanças,
afastou-se rapidamente, com um sorriso traquina. Ao fim e ao cabo, a sensação
de ofensa durava pouco, face àquele rosto bem-talhado e sorriso desarmante. Mas
com a gaita de foles era um Deus na terra e com os companheiros, punha a dançar
o maior pé-de-chumbo. Dançavam-se as modas com alegria e em tais rodopios, que
por vezes até caíam no chão empedrado do largo da fonte.
Foi naquela mesma fonte, no meio da aldeia, que percebeu o olhar
do António Joaquim, filho do sapateiro de São Miguel das Chãs. Ela sempre se
portou com ele como uma potra selvagem, com "coices" e empurrões,
cada vez que ele se aproximava, mas como ele não desistia, casaram num tórrido
dia do estio do ano de 1946.
A igreja, nome pomposo para a pequena capela no centro do
povoado, onde se acotovelaram os vizinhos, nos tempos das famílias de muitos
filhos, não passava agora de umas paredes ao alto, despojadas há muito dos
objetos de culto. Estava bonita, no dia do seu casamento, todo o templo, caiado
de novo, tinha os altares decorados com belas flores silvestres e muitos
verdes, colaboração de todas as mulheres da aldeia. Até o chão tinha um belo
tapete florido, decorado com motivos geométricos ricamente elaborados. Cheia de
vergonha, a cabeça coberta com um lenço branco e o rosto corado, estava
simples, mas radiosa. Apesar dos pais não lhe poderem comprar um vestido de
tule branca, envergava uma alva camisa, finamente bordada, costurada pela
"ti" Rosário, que entrava numa saia cinza claro, comprida, que quase
tapava os pequenos sapatos pretos, bem engraxados. A seu lado, um sorridente
António Joaquim, de chapéu preto de aba direita, fartos bigodes e fato cinza
claro, empinava-se nas botas de couro luzidio e dava-lhe o braço, de forma
protetora… como eram jovens, mesmo a mais pobre das indumentárias, era trajo de
príncipes. E foi assim que se sentiram durante a cerimónia e no circuito que
tiveram de fazer, nos dois povoados, de braço dado, para que todos
reconhecessem o novo casal.
Faustina foi viver para as Chãs com os sogros, mas ao fim de
três anos os irmãos tinham emigrado para o Brasil, um após outro e o tifo
levara-lhe o pai e a irmã. Regressou a Vale Santeiro com o marido e dois
filhos, mas um deles morreu naquele mesmo ano, com febres muito altas, o outro
também as apanhou e durou apenas mais cento e poucos dias. No mesmo ano de
1951, nasceram os gémeos e batizaram-nos António Luís e António José, exigência
do marido.
As colheitas da castanha e da azeitona eram sempre motivo de
festa; a aldeia enchia-se de romeiros, que vinham de longe trabalhar à jeira
nos soutos ou nos olivais. Eram uma boa desculpa para o endiabrado trio musical
se juntar às "orquestras" que acompanhavam aquelas hordas e festejar
o fim das colheitas com bailes que iam pela noite dentro, assim o permitissem o
frio, a chuva, ou mesmo a neve. Para muitos, aquela mão cheia de castanhas
assadas e o púcaro de vinho, eram a única maneira de bastar a fome que lhes
atormentava as costelas o resto do ano.
A fome e uma profunda crise, ainda efeitos do terrível
conflito mundial que acabara há apenas cinco anos, grassava pela totalidade do
país, mas por aqueles lados, sempre se arranjava uma hortaliça, uma batata ou
uma côdea de pão. O marido, porque estava insatisfeito com o pouco que ganhava
de sapateiro, deixou-se levar pela febre da emigração. O sonho do Brasil levou-o
para longe dela, com promessas de a mandar buscar… durante a viagem de barco,
levou-o o diabo… só o soube dois meses depois.
A vida nunca lhe sorria verdadeiramente, antes parecia rir de
escárnio.
Faustina e a mãe trabalharam juntas nos terrenos que o pai
comprara com os dinheiros ganhos no volfrâmio, até a matriarca não poder mais.
Era até curioso que o pai tivesse ganho a vida a vender minério para alimentar
a guerra na Europa em 1943 e avô tivesse perdido a vida nas trincheiras da
Flandres em 1917.
A mãe foi-se já velhinha e sem poder levantar-se da cama. Ainda
assistiu à partida dos netos gémeos para França, nos anos setenta, fugidos à
guerra colonial… a doença da emigração levava mais dois.
O primeiro ano custou-lhe imenso. Com quarenta e cinco anos,
a casa vazia, o trabalho todo para ela. Faltavam-lhe as brincadeiras dos
rapazes, até mesmo as vezes que lhes ralhava porque iam para a taberna até
tarde. Noutras ocasiões, irritava-se porque riam e falavam alto, na cozinha, a
gastar petróleo no candeeiro e sem a deixar dormir. De manhã, acordava-os ainda
mais cedo, para os castigar, mas aquelas almas lá se levantavam. Resmungavam,
mas obedeciam.
Com o tempo, as memórias deles já não passavam de palavras
escritas em missivas curtas, lidas num tom monocórdico pelo senhor Fonseca
carteiro. Estavam bem, casaram e tinham filhos, netos que ela só conheceu com
cerca de dez anos. Por volta dos anos oitenta… vieram passar umas férias, mas
não se demoraram, o objetivo eram as praias do Algarve. Traziam mulheres
francesas e os filhos não diziam palavra de português. Não gostaram de ver o
Fernando, o irmão do António Joaquim a viver com ela, ainda para mais sem
casar. "Que queriam eles?" Pensou franzindo o sobrolho, mas mantendo
os olhos cerrados. "Tantos anos sem quererem saber, nunca lhes respondi,
senão às primeiras cartas. Nunca aquelas almas vieram saber se estava bem, ou
precisava de alguma coisa." Já quando se foram para França "a salto[3]", foi
ela quem pagou ao "passador" e deu-lhes as poucas economias que tinha.
Ficou em grandes dificuldades, mas mesmo assim, achavam-se no direito de dizer
que tinham vergonha pelo falatório que havia na aldeia, por causa dela e do tio
deles. Trocaram palavras amargas, para uma despedida. Ela estava contente por
vê-los escapar à guerra, que já vitimara dois jovens da aldeia, mas lamentava
ver os filhos ir para longe, além da falta que lhe iriam fazer aqueles dois
pares de fortes braços.
Era à porta da taberna do "ti" Acácio, que
Faustina encontrava Fernando, ao fim do dia, após o trabalho. Ela fazia de
propósito para ir à água na hora em que o sabia por lá… e ele fazia questão de
sair à porta, assim que a via assomar à boca da rua, com o cântaro debaixo do
braço. As mulheres e as raparigas riam maliciosamente ou sussurravam umas com
as outras quando passavam, mas eles ignoravam-nas, ou nem se apercebiam da sua
passagem. Ela era já viúva e não via, ou não queria ver, mal nenhum em falar
com o cunhado. Ele, "quase" viúvo, tinha ali a oportunidade de ter
junto de si um rosto bonito e alegre.
Mesmo Fernando só lhe fez companhia por cerca de quinze
anos. Juntara-se com ela, apenas quando ele enviuvou também. Embora conversassem
muito desde a partida do irmão, sempre tentou respeitar Maria do Carmo, a
mulher dele, que estava de cama há anos, não a abandonando nem pondo outra
mulher no lugar que lhe pertencia. Maria do Carmo foi outra infeliz; desejava
ardentemente ter filhos e por três vezes sofreu partos pavorosos, que deram em
crianças deformadas e, felizmente, mortas. O último foi de tal forma difícil,
que tiveram de mandar vir o médico da vila. Salvou-lhe a vida, mas não
conseguiu salvar-lhe o juízo.
Fernando e Faustina acabaram por se consolar um ao outro.
Encontravam-se às escondidas, às vezes na calada da noite, no palheiro dela, ou
noutro lugar qualquer mais recatado, mas inevitavelmente acabaram por ser
vistos… e falados. A viuvez dele, a partida dos filhos dela e a velhice da mãe,
foram a combinação perfeita para se juntarem definitivamente em casa dela. Foi
um suporte essencial, quando a mãe dela partiu deste mundo. Viveram bons tempos,
ele foi uma companhia serena e carinhosa, até o coração lhe ter “pregado uma
partida” aos sessenta e um anos. E Faustina tornou a ficar só.
Não quis mais homem nenhum. Não que houvesse algum por
aqueles lados, pelo menos viúvo, mas não queria mais partilhar a sua vida com
alguém que a abandonasse novamente.
Os filhos retornaram por volta de 1990. Ou que alguém lhes chamasse
a atenção, ou que os remorsos os mordessem, apareceram de surpresa, apenas os
dois, para “saberem como ela estava e se precisava de alguma coisa”. António
Luís, sempre mais falador, manteve uma conversa variada, contando a forma como
viviam em França e que o irmão, agora divorciado, vivia temporariamente com
eles. Mas António José notava-se comprometido, como se estivesse ali contra a
vontade. Por fim, a conversa acabou por cair na aldeia, cada vez mais deserta e
no facto de ela estar sozinha há tantos anos. “O melhor mesmo” dizia Luís “era
vender as territas e a casa e ir para o lar da vila, onde não lhe faltaria
nada.” Até trazia já os impressos para assinar e tudo. Tinha pressa para ir ter
com o resto da família, que o aguardava no Algarve. Claro que acabaram aos
gritos em casa e expulsos pela matriarca… Nunca mais voltaram. Ela sabia que
não deveria ter atirado a pedra, que partiu o vidro da porta do carro do filho,
mas depois de atirada, já não havia nada a fazer. “Eles que fossem lá para as
porcas das francesas e se enchessem do bom e do melhor que havia naquela terra
para onde os mandou, com todos os tostões ganhos com o suor do seu rosto. Não
precisava deles, nem de ninguém.” Gritava a miúde com quem lhe puxava tal
conversa.
Os vizinhos foram desaparecendo, um após outro. Com mais ou
menos dificuldades, acompanhou alguns até à última morada e despediu-se de
outros, que foram para o lar de idosos ou para o hospital e já não regressaram.
Por fim, o padre já não vinha dizer a missa à aldeia e
tinham de ir às Chãs, que pouca mais gente tinha. Depois, já nem lá. O
sacerdote só aparecia para os funerais e o coveiro tinham de o mandar vir da
vila. O templo estava fechado, mas não deixaram que levassem as imagens, quando
o padre as mandou buscar; pertenciam ao povo e não à igreja! Faustina ainda
conheceu, já muito velho, o neto do santeiro que esculpiu a Senhora da Piedade,
que era tão bonita.
Mantiveram o culto como podiam. A “ti” Sabina, a única que
sabia ler, recitava trechos da bíblia e partes do missal todos os dias à noite,
enquanto os diabetes não a cegaram, depois já só rezavam o terço. Eram as
cerimónias que tinham para alimentar a fé, que não parecia esmorecer. Uma vez
por mês, lavavam o chão de soalho e tiravam as teias de aranha dos santos, mas
as pinturas e reparações eram demasiada exigência para as fracas posses físicas
e monetárias da população. As paredes brancas estavam sujas e descascadas. Já tinha
a aldeia só para si e não deixava de ir rezar o terço, por hábito, no salão
sombrio e solitário que fechava cuidadosamente ao fim do dia. Uma noite, o
telhado ruiu com estrondo e ela só o soube pela manhã, pois teve medo de sair à
rua para ver o que tinha acontecido… chorou e teve pena de não estar lá dentro,
a rezar, na hora em que aconteceu.
Há quanto tempo estava sozinha? Dez? Quinze anos? Já quando
faleceu o Fernando, Vale Santeiro só tinha oito habitantes… havia menos pessoas
do que cães e mesmo esses foram desaparecendo.
Lembrava-se perfeitamente quando a filha da Maria do Céu veio
para a levar para Lisboa, para junto dela, só restavam elas as duas…. Insistiu
tanto com Faustina para que fosse para a vila, para o lar de terceira idade… “Foi
a única vez que gritei com ela, pobrezinha, que já estava tão fraquinha."
Suspirou. "Ainda me escreveu umas vezes, depois deixou de escrever. Mais
tarde, a filha mandou dizer que ela tinha morrido. Eramos as últimas pessoas de
Vale Santeiro… e agora só resto eu." Lágrimas molharam o travesseiro.
Não sabia se tinha estado a sonhar se acordada, a sensação
era de estar a dormir há décadas. Os lábios estavam secos e gretados.
Doíam-lhe. Afastou as mantas e arrancou o corpo à cama, puxado a gemidos.
Cambaleou até ao balde onde fazia as necessidades e
destapou-o, sendo agredida de imediato pelo cheiro intenso. Desceu as calças
com dificuldade e quando se baixava, sentiu uma violenta náusea, acompanhada de
um formigueiro nas mãos e nos pés.
Acordou com as pernas e os braços rígidos de frio. Estava
deitada no chão, os membros entorpecidos quase não lhe obedeciam e um zumbido
ensurdecedor inundava-lhe o cérebro. Gatinhou, gemendo e chorando de dores até à
cama, que era uma estrutura de ferro demasiado alta para ser alcançada, mas a
esperança da tonelada de mantas e o colchão de palha eram forte apelo.
Não sabia se estava a dormir, se acordada, estava de novo
debaixo das mantas. Ouvia ao longe, trazido pelo sopro do vento, as melodias
tristes que tocava o Tino ferreiro, ecoando nas encostas agrestes da serra.
Vozes falavam de longe num tom baixo. Parecia-lhe a voz do senhor Fonseca
carteiro, que conversava com alguém: "…tive que ir até às Chãs, que aqui
não há rede…". Tentou organizar as ideias e forçar-se a perceber o que
estava a acontecer, enquanto ele continuava: "… coitadinhas, já não comiam
nem bebiam há uns dias. Pus-lhes ração e água…"
— Avó Faustina, como está a senhora? — Agora era a voz de
Salomé, a GNR que a visitava frequentemente, que lhe chegava de muito longe. —
Está tão quente! Tem febre? Que magra que está, não se tem alimentado bem!
— Não sei o que se passa. — Respondeu numa voz sumida, sem
abrir os olhos, por entre os arrepios de frio. Não sabia ainda se falava com um
sonho. — Tenho tido muito frio e passo o tempo debaixo das mantas. Nem fome
tenho. Não sei há quanto tempo não saio com as cabras… tem havido muita neve.
— Não acendeu o lume… — A guarda censurou com meiguice.
— Ainda acendi um destes dias, mas a lenha está a acabar e não
me sinto com forças para ir buscar mais. Debaixo das mantas não está tanto
frio. — A velhota respondeu, tirando os olhos e espreitando debaixo do monte de
cobertas, apercebendo-se pela primeira vez da luz azulada que piscava,
iluminando todo o compartimento a espaços. — Será que me podia trazer um
braçadito de galhos? E dar umas “coivitas” às galinhas? As pobrezinhas bem
chamam…
— A senhora precisa de ajuda e vamos levá-la para um sítio
quentinho, com uma cama fofinha, onde terá mais gente para conversar. — Salomé
continuou carinhosamente, quase a falar-lhe em segredo. — Não precisa de sair
com as cabras, nem de andar “atrás das galinhas” nem da lenha. Vai ter sempre
alguém para cuidar da senhora, está bem? Vai passar o Natal com muitos amigos
novos.
Só aí Faustina se apercebeu do outro guarda e três jovens de
bata branca e até do senhor Fonseca carteiro, que aguardavam atrás, iluminados
pela silenciosa e faiscante luz azulada.
— Ora, vejam tanta gente. — Gemeu na voz fraca. — E eu não
tenho quase nada. Deve haver para aí um "cibito[4]" de
presunto e pão. Talvez um tantinho de vinho…
Salomé sorriu-lhe e beijou-lhe a mão descarnada antes de dar
passagem aos jovens de bata branca, que, com palavras carinhosas, mudaram-na da
cama com todo o cuidado, para a maca que trouxeram. Em seguida, levaram-na pelo
quarto e depois a cozinha, que foram a existência dela por tantos anos.
Cá fora, o mundo era cinzento e as nuvens pesadas
continuavam a navegar o céu, deixando escapar, aqui e além, uma nesga da
promessa do sol forte, que se escondia mais acima.
Ao ser colocada na ambulância, sabia que não veria mais as
cabrinhas, nem as galinhas, que eram a sua companhia de todos os dias. Não
tornaria a ver os cumes do Marão tão de perto, nem voltaria a sentir o ar
fresco da madrugada a bater-lhe no rosto, antes dos calores das tardes de verão.
Não mais veria as ruas desertas de Vale Santeiro, nem
poderia reviver a sua vida, em cada uma daquelas esquinas arruinadas, ou
lembrar bons momentos debaixo de muitos telhados que já não existem, dos amigos
que já se foram há muito.
Fechou os olhos e, forçando um sorriso, enclavinhou as mãos
sobre o peito, como que guardando em si aquelas recordações.
E deixou-se levar.
[1] Lareira,
conforme é utilizado em grande parte da região transmontana.
[2] Grande
parte das casas transmontanas possui um piso inferior à habitação que era usado
para arrumações, criar os porcos e outros animais. Era útil para os poderem
alimentar sem sair da casa e ao mesmo tempo geravam calor.
[3] As
saídas do país eram fortemente controladas durante o regime salazarista e
principalmente durante a guerra colonial. A forma de passar as fronteiras, para
os civis e principalmente os jovens em idade militar, era clandestinamente, com
ajuda de "passadores" envolvidos em autênticas redes de tráfico
humano.
[4] De cibo,
pequena quantidade de alimento.