O Regresso
Com a cabeça encostada ao vidro e os olhos semicerrados, Xico olhava pensativamente a paisagem que corria veloz, no sentido contrario ao do autocarro de passageiros em que viajava. Era a segunda etapa da viagem; a primeira fora o comboio inter-regional do Porto até à estação da Ermida em Resende, agora só sairia em Castro Daire, a sede do concelho a que pertencia. Estava-se no fim do verão, setembro arrastava-se, quente e parecia não querer dar entrada ao outono, que espreitava.
Passaram-se cerca de três meses desde a morte do seu Manuel “passarão”. Fazia três meses que o amigo, numa fuga descuidada, fora atropelado em plena rotunda da Boavista. Esta morte deixara-o de rastos, a ele, que o tratava a maior parte das vezes com brusquidão ou sobranceria. Mas na realidade, queria-lhe bem e achava graça à sua ingenuidade, fruto do atraso mental que parecia ter… e que agora não tinha mais. Talvez Deus tenha um sítio simpático para as pessoas como ele, se é que existe Céu, que nunca fizeram mal a ninguém, nem tinham negruras no coração… como ele próprio tinha. Ou melhor ainda, se realmente existisse um “Céu dos Pássaros” para onde o deixassem ir correr com as pombas, como adorava fazer e como fora o seu último desejo.
Iria sentir-se para sempre culpado de o ter convencido a sair do abrigo, onde era bem tratado e alimentado, para regressar às ruas, para a fome, o frio… e para a morte. Desencaminhara-o e era o único culpado daquela morte; assim lhe gritou o doutor Tomé, que trabalhava no abrigo e assistira ao atropelamento. Manuel havia falado muitas vezes do amigo Xico, que desaparecera e todos sabiam que, se ele reaparecesse, o “Passarão bateria as asas”. Todos no abrigo gostavam dele e foram eles quem tratou do funeral que levou o infortunado para debaixo da terra.
Mas a culpa daquela morte não era sua, ou pelo menos, não diretamente. Culpados eram o Pinguinhas e o Vesgo, de quem ele fugia. Os dois “bandalhos” que viviam de roubar aqueles que, tendo roubado outros, não tinham força para defender o saque. Era o caso do Manel Passarão, eles infligiam-lhe um terror incontrolável e foi esse terror que o precipitou para a frente de um carro.
Também Xico lhes tinha medo. Não do Pinguinhas, que era um covarde, enfezado e estúpido, mas do Vesgo, muito forte, inteligente e um sádico da pior espécie. Por várias vezes lhe sentira o peso dos punhos ou as queimadelas dos cigarros no pescoço e nos braços.
Ao fim e ao cabo, já tinham sido avisados para não roubar na zona controlada por eles e, se o fizessem, tinham que dar uma parte (a maior ou a melhor) ao “gigante”. Como teimoso que era, Xico sempre se recusou a fazê-lo e pagava “com o corpo”. No início ainda reagia, mas resultava numa tareia ainda maior, por isso ultimamente, ou fugia-lhe ou sujeitava-se às porradas. Assim aconteceu depois da morte do Manuel; fugiu do “canto” que partilhava com o falecido, debaixo do viaduto e escondeu-se nos pisos mais fundos de uma das torres do Bairro do Aleixo, há muitos anos condenadas à demolição. Durante três meses ali esteve, acoitado num cubículo, de onde expulsou outro mais fraco que ele, entre paredes gatafunhadas, lixo e escuridão. Só saía o mínimo possível para arranjar alguma coisa de comer e retornava ao “covil”... ou toca, como um autentico rato.
Chegou finalmente a Castro Daire, cerca das quatro da tarde. O sol estava alto e pôde olhar demoradamente as casas daquela vila que já não via há cerca de doze ou treze anos, desde que saíra de Pepim, a pequena aldeia do concelho, onde nascera.
As coisas não estavam assim tão diferentes, do longínquo mês de fevereiro de 2001: uma casa ou outra fechada, ou a precisar de obras, um estabelecimento fechado aqui, um outro novo ali… ninguém sentira a falta do Francisco Soares.
Foi a um dos cafés próximo da paragem da rodoviária e pediu uma sandes e uma cerveja… seria o seu almoço e lanche… se calhar até jantar. Faltava saber como seria recebido em casa. O empregado de mesa e o “mal encarado” ao balcão, eram conhecidos, talvez dos tempos do secundário, que fez de forma errática ali na vila. No entanto, nem um nem outro aparentaram reconhece-lo. Olhou-se no espelho que decorava a coluna a seu lado: cabelo escuro, seboso, barba de vários dias e blusão grande demais e sujo. Era de admirar que não o pusessem na rua.
O empregado pousou o pedido em cima da mesa e cruzou os braços, à espera. Envergonhado do seu aspeto, não quis ser reconhecido e de olhos baixos, rebuscou os bolsos de onde tirou dez euros amarrotados, que entregou. O troco materializou-se em cima da mesa, mas, por detrás do balcão, o “mal encarado” mantinha-se vigilante. Terminada a “refeição” saiu, sem fitar os empregados, para a rua, sentindo-se imediatamente mais aliviado.
Olhou os táxis imobilizados na praça e suspirou enquanto pegava nas notas e moedas que trazia no bolso. Descontados os bilhetes do comboio e da camioneta, restavam-lhe apenas cinquenta e poucos euros, do que conseguira roubar ao Vesgo, no último e traumático encontro que teve com a infame dupla. Encontro esse, que foi a causa da súbita vontade de regressar à sua terra natal.
Encolheu os ombros; o dia estava bom e cinco quilómetros fazem-se num instante, afinal, já fizera dois e tal entre da estação de comboios e a rodoviária e não sabia ainda o que o esperava em Pepim.
Conseguiu ainda reconhecer um ou dois rostos, mais idosos, como os do dono de uma mercearia e o de um dos taxistas, que lia o jornal sentado num degrau ao pé da viatura, mas fazia sempre por não os olhar diretamente.
Quase conseguiu desfrutar da caminhada pelo meio dos campos, após abandonar o arvoredo ladeava a estrada do planalto da vila. O sol começava a descer, quando avistou as primeiras casas da aldeia.
Passou pela rua Central, que outro nome não tinha, cabeça baixa, como que tentando esconder-se debaixo da mochila preta que trazia às costas. Não havia quase ninguém fora das casas, mas conseguiu discernir alguns habitantes, sentados nas varandas a aproveitar o ar que começava a refrescar e que se erguiam curiosos a ver “quem vem lá”.
Conseguiu chegar ao ponto mais alto da rua, o largo do Eirô e iniciar a descida para o local onde nascera, sempre através das recordações de infância, umas boas e outras más. A casa do João do burro aparentava estar vazia há muito tempo. A da ti Maria padeira tinha caído e à medida que avançava, a degradação era maior e havia mais casas arruinadas ou simplesmente abandonadas. Passou a última habitação do aglomerado central e já divisava o telhado e a parede amarela do seu destino. Sentia dor de barriga e tremiam-lhe as pernas, mas continuava a caminhar; como iria recebê-lo a mãe? Depois de tantos anos sem saber de nada, depois de ter roubado o dinheiro do Manel da mercearia e os brincos e a arrecada de ouro da Lucinda da igreja?
Só quando está a poucos metros de distância se apercebe do mau estado em que se encontra a janela que se divisava por cima dos esteios das videiras, em completo abandono. Do aspeto envelhecido da parede de onde já caíram pedaços de reboco. De frente, era ainda pior. As janelas e as portas entaipadas contavam uma história que escapava a todas as suas conjeturas, já não vivia ali ninguém há bastante tempo, a avaliar pelas ervas secas em volta, apenas cortadas à face da estrada, possivelmente pelos serviços autárquicos.
Ficou, estático, de boca aberta a rever cada contorno das portas das lojas, de cada janela apodrecida. Olhou em volta, desorientado. A casa mais próxima, à direita, estava reconstruida, lembrava-se que estava vazia na sua juventude, logo, não devia conhecer ninguém. Do outro lado, só a velha escola primária e mais longe, a caminho da igreja, o ti Luís da Serra e a ti Joana, se calhar ainda lá vive a Maria Alice, que não queria encontrar… pelo menos com o aspeto que tinha. Mesmo em frente à casa subia a rua das Roçadas, ladeada de pequenos casebres agrícolas e depois havia um pequeno tasco… tinha que perguntar a alguém. Que terá acontecido à mãe e à irmã?
Um automóvel passou veloz, ignorando-o, quase no meio da rua.
Após uns minutos de indecisão, tentou empurrar as portas a ver se alguma cedia.
— Eh lá! — Uma voz de mulher gritou do meio da ramada no terreno em frente à casa. — Que está a fazer?
Sobressaltado, Xico olhou em volta a tentar perceber de onde vinha a voz, até conseguir divisar a mulher oculta pelas folhas, atrás da rede que delimitava a propriedade em frente. Apurou a vista e reconheceu a dona Inácia, que vivia em frente à tasca. Continuava velha, esquelética e enrugada como sempre fora… talvez mais velha.
— Sou o Xico, dona Inácia! — Gritou-lhe de volta. — O filho da ti Maria da Luz!
— Ora quem havia de dizer! — A velha surpreendeu-se. — Tardaram-te as saudades, rapaz!
— Que é da minha mãe? E da minha irmã?
— A tua irmã foi-se embora para Lisboa há uns bons anos…
— E a minha mãe?
— A tua mãe… — A velha hesitou um pouco. — Mudou-se lá para baixo, para o cemitério. Levou-a uma pneumonia há quatro ou cinco anos.
Ele ficou como que petrificado. A mãe, pequena e magra, mas firme e dura como uma rocha, tinha morrido. Aquela mulher capaz de um beijo e de um tabefe quase de seguida, capaz de tirar o pão da boca para o dar a um filho ou a um amigo e ao mesmo tempo, enfrentar o mais mal encarado, armada apenas com um pau de vassoura. Fora-se para sempre.
Até já estava preparado para o chorrilho de insultos com que pensava que seria recebido, sentia-se ágil para fugir dos pratos que lhe arremessaria… mas ela não poderia mais dar-lhe os maus tratos devidos à ingratidão que ele sempre demonstrara e os justos castigos pelos crimes que cometia. A luz daquela mulher de aço, que nem os maus tratos do marido e as canalhices cometidas por filho e marido alternadamente conseguiram derrubar, apagara-se para sempre.
Nem agradeceu à dona Inácia, que acabou por desaparecer entre a ramada e voltar aos seus afazeres, enquanto ele, de olhos no chão, deixou que duas gotas pingassem no asfalto cinzento pelos anos. Sentindo-se demasiado pequeno para aquele mundo, olhou em volta para rua, que conhecia desde que se lembrava de ser gente, que antes parecera pequena, mas agora parecia interminável. O céu pintava-se de vermelho quando resolveu pegar na mochila às costas e continuar a rua.
Passou em frente à escola primária, agora reluzente, caiada de novo. Quando era miúdo, tinha alguns buracos e a tinta a descascar, mas estava repleta de crianças, agora se calhar já nem funcionava, mas estava nova. Mais à frente, o caminho de terra onde dera uma tareia ao João Luís, depois, o pomar do ti João, onde o Zé Gordo e o mesmo João Luís lha devolveram e não fosse aparecer o pai da Maria Alice, poderia ter sido bem pior. E a Maria Alice… a casa dela estava a seguir, a última, antes da junta de freguesia, os beijos que deram naquelas traseiras da casa, beijos e não só. Mas agora não queria que o reconhecessem; baixou a cabeça e estugou o passo.
Chegou finalmente ao cemitério. Olhou de soslaio a igreja onde fez a comunhão… como o pai estava bêbado nesse dia! Ele e a mãe gritaram um com o outro toda a manhã e mesmo a caminho da procissão. Quando chegaram àquele mesmo local, perdeu a paciência e gritou-lhes que se calassem. O pai deu-lhe um estalo com tanta força que quase o fez cair; a mãe ficou rubra e dessa vez não gritou, mas ameaçou alto o suficiente, entre dentes:
— Se voltas a bater no MEU filho, juro que te mato! Quando estiveres a dormir, sangro-te como a um porco, seu canalha!
A comunhão foi com as lágrimas nos olhos e uma mancha roxa na cara. As únicas duas fotografias que havia da procissão, Xico deu-lhes sumiço, logo que as apanhou à mão.
A mãe não cumpriu a promessa, claro, o pai viveu com eles mais uns meses mas, uma manhã saiu para trabalhar e não tornou. Deixou a mulher grávida, nenhum deles sabia ainda, mas oito meses depois nascia Luísa.
Empurrou a enorme porta de ferro do cemitério, que cedeu com um gemido. Estava aberta, não há perigo dos vivos quererem entrar, nem dos mortos quererem sair.
Não foi difícil encontrar a campa num local tão pequeno. Ali estava a mãe, uns anos mais nova do que se lembrava, mas era ela, sem dúvida. A lápide simples, branca com letras pretas, anunciava: “Maria da Luz Martinho Soares N:10-11-1963 F:25-2-2008” apenas isso, mais nada. Uma vida inteira resumida a um nome e duas datas gravados numa laje de mármore.
Pousou a mochila no chão, entre duas pedras tumulares e sentou-se acariciando com os olhos cada pormenor daquele rosto agora desaparecido. Pela segunda vez naquele dia, as lágrimas correram no rosto sujo, decorado com a barba por fazer, enquanto o remorso se unia à dor da perda e assaltavam aquele coração empedernido pelas muralhas do egoísmo, que começava a ceder aos poucos.
Recordou momentos que não lembrava há muito. O rosto dela próximo do seu, a ensinar-lhe as primeiras letras, a brincarem no empedrado da cozinha com pequenas figuras toscas de madeira, esculpidas pelo pai. Ela sorria. Ele não se lembrava de a ver sorrir.
Numa oração sem palavras, pediu perdão pelas vezes que a fez sofrer, pela dor que lhe causou, pelas vergonhas que a fez passar… pelas palavras que lhe disse e ela não merecia. Pousou a cabeça nos joelhos e chorou. Chorou pela mãe, pelo pai, pela família que não se conseguiu amar. Chorou por si próprio e pela sua vida desperdiçada.
Quando achou suficiente, ergueu-se e limpou as lágrimas à manga sebosa. Levantou a mochila para o ombro e abandonou os que descansavam para sempre, sem tornar a olhar para trás; aqueles que se foram, não precisam de nada mais de nós, não lhes serve de nada a pena, ou arrependimento, ou mesmo o amor. Muito menos amor, esse, deveria ter-lhes sido dado enquanto caminharam neste mundo.
Retornou a casa, assegurando-se que não era visto ao passar frente à da Maria Alice. O sol desaparecera completamente e o vermelho do céu dera lugar a um cinzento que gradualmente se tornava preto. As luzes da rua estavam já acesas quando chegou à habitação e uma vez mais experimentou as portas até que conseguiu entrar nas traseiras, na “loja” onde há muito tempo não dormia o burro que pertencera ao seu avô. O estômago rugia de fome, mas não queria ver mais ninguém hoje. Com o isqueiro, viu que o pequeno aposento estava transformado numa arrecadação com tralhas de todo o tipo, mas o melhor, era o velho colchão envolto em plástico encostado à parede.
Fez uma pequena fogueira, cercada por pedras, mais para iluminar do que para se aquecer e ali comeu umas sardinhas de lata, acompanhadas de umas bolachas de água e sal e uns golos de água. Era o farnel que lhe ocupava a mochila. Amanhã iria à mercearia comprar mais qualquer coisa, veríamos para o que dava o dinheiro.
Passou uma noite agitada. Os seus “amigos” Pinguinhas e o Vesgo, saíram das sombras para o atormentarem e ele reviveu o pesadelo que foi o último encontro com a dupla.
****
Quando saía do fétido cubículo, de que se apoderara no bairro do Aleixo e encarou com o Pinguinhas, que parecia mesmo andar à procura de alguém. Assim, que se encararam, passado o espanto inicial, Xico reagiu primeiro e saltou ao pescoço do facínora, que apertou com vontade, enquanto interrogava de dentes cerrados:
— Que fazes aqui, monte de m**?
— Ai! Deixa-me! — O outro gemeu apavorado. — Não ando a fazer nada, ia só a passar.
— Cabrão mentiroso! — O aperto do pescoço foi “enfeitado” com dois sonoros estalos no cachaço. — Que andas aqui a fazer?
— Nada! Já te disse que ia a passar! — O Pinguinhas começou a chorar. — Só vou visitar uma irmã da minha mãe que vive aqui!
— Cala-te, filho da p**! Tu não tens mãe, foste escarrado por um lixeiro! — Xico ergueu uma lâmina brilhante ao nível dos olhos da sua vítima. — Diz-me o que andas a fazer ou vazo-te as tripas aqui mesmo!
— Por favor, Xico! Eu não fiz nada! Viste que era sempre o Vesgo quem te fazia mal! — Ele soluçava, desesperado.
— Quem te mandou aqui! Diz-me, desgraçado! — Perdida a paciência, atirou-o ao chão e pontapeou-o sem dó, por várias vezes. Depois debruçou-se e encostou-lhe a navalha ao pescoço. — Vou cortar-te essa cabeça horrível e pendura-la lá fora.
— Espera! Não! Espera, não faças isso! — As mãos esbracejavam tentando afastar o agressor, enquanto gritava esganiçadamente. — Foi o Manel Preto! Foi ele que disse ao Vesgo para te virmos buscar! Disse assim: “O ‘panascas' do Xico está escondido no Aleixo. Vão lá buscar o dinheiro que ele me deve pelo ‘trabalho' da ribeira, ou tragam-me o couro dele para esfolar.”
Xico estacou por uns segundos, ainda com a arma a ameaçar o Pinguinhas e depois, num movimento rápido, fez-lhe um corte na palma da mão. Depois presenteou-o com mais dois pontapés.
— Desaparece-me daqui, monte de m**, antes que te esfole! — Expulsou-o, virando-lhe as costas.
Tão logo ouviu o facínora “correr como se não houvesse amanhã”, lançou-se ele próprio para dentro do cubículo de onde saíra, para pegar nos seus parcos pertences. Se o Vesgo andava por ali, a sua saúde, se não a vida, estava a correr um grande risco.
Com os braços cheios de roupas e cartões, preparava-se para abandonar o edifício quando viu o enorme corpanzil do Vesgo a dirigir-se para ele. Depois do pânico inicial, percebeu que não fora visto e desatou numa corrida pelas escadas acima.
Passaram-se cerca de três meses desde a morte do seu Manuel “passarão”. Fazia três meses que o amigo, numa fuga descuidada, fora atropelado em plena rotunda da Boavista. Esta morte deixara-o de rastos, a ele, que o tratava a maior parte das vezes com brusquidão ou sobranceria. Mas na realidade, queria-lhe bem e achava graça à sua ingenuidade, fruto do atraso mental que parecia ter… e que agora não tinha mais. Talvez Deus tenha um sítio simpático para as pessoas como ele, se é que existe Céu, que nunca fizeram mal a ninguém, nem tinham negruras no coração… como ele próprio tinha. Ou melhor ainda, se realmente existisse um “Céu dos Pássaros” para onde o deixassem ir correr com as pombas, como adorava fazer e como fora o seu último desejo.
Iria sentir-se para sempre culpado de o ter convencido a sair do abrigo, onde era bem tratado e alimentado, para regressar às ruas, para a fome, o frio… e para a morte. Desencaminhara-o e era o único culpado daquela morte; assim lhe gritou o doutor Tomé, que trabalhava no abrigo e assistira ao atropelamento. Manuel havia falado muitas vezes do amigo Xico, que desaparecera e todos sabiam que, se ele reaparecesse, o “Passarão bateria as asas”. Todos no abrigo gostavam dele e foram eles quem tratou do funeral que levou o infortunado para debaixo da terra.
Mas a culpa daquela morte não era sua, ou pelo menos, não diretamente. Culpados eram o Pinguinhas e o Vesgo, de quem ele fugia. Os dois “bandalhos” que viviam de roubar aqueles que, tendo roubado outros, não tinham força para defender o saque. Era o caso do Manel Passarão, eles infligiam-lhe um terror incontrolável e foi esse terror que o precipitou para a frente de um carro.
Também Xico lhes tinha medo. Não do Pinguinhas, que era um covarde, enfezado e estúpido, mas do Vesgo, muito forte, inteligente e um sádico da pior espécie. Por várias vezes lhe sentira o peso dos punhos ou as queimadelas dos cigarros no pescoço e nos braços.
Ao fim e ao cabo, já tinham sido avisados para não roubar na zona controlada por eles e, se o fizessem, tinham que dar uma parte (a maior ou a melhor) ao “gigante”. Como teimoso que era, Xico sempre se recusou a fazê-lo e pagava “com o corpo”. No início ainda reagia, mas resultava numa tareia ainda maior, por isso ultimamente, ou fugia-lhe ou sujeitava-se às porradas. Assim aconteceu depois da morte do Manuel; fugiu do “canto” que partilhava com o falecido, debaixo do viaduto e escondeu-se nos pisos mais fundos de uma das torres do Bairro do Aleixo, há muitos anos condenadas à demolição. Durante três meses ali esteve, acoitado num cubículo, de onde expulsou outro mais fraco que ele, entre paredes gatafunhadas, lixo e escuridão. Só saía o mínimo possível para arranjar alguma coisa de comer e retornava ao “covil”... ou toca, como um autentico rato.
Chegou finalmente a Castro Daire, cerca das quatro da tarde. O sol estava alto e pôde olhar demoradamente as casas daquela vila que já não via há cerca de doze ou treze anos, desde que saíra de Pepim, a pequena aldeia do concelho, onde nascera.
As coisas não estavam assim tão diferentes, do longínquo mês de fevereiro de 2001: uma casa ou outra fechada, ou a precisar de obras, um estabelecimento fechado aqui, um outro novo ali… ninguém sentira a falta do Francisco Soares.
Foi a um dos cafés próximo da paragem da rodoviária e pediu uma sandes e uma cerveja… seria o seu almoço e lanche… se calhar até jantar. Faltava saber como seria recebido em casa. O empregado de mesa e o “mal encarado” ao balcão, eram conhecidos, talvez dos tempos do secundário, que fez de forma errática ali na vila. No entanto, nem um nem outro aparentaram reconhece-lo. Olhou-se no espelho que decorava a coluna a seu lado: cabelo escuro, seboso, barba de vários dias e blusão grande demais e sujo. Era de admirar que não o pusessem na rua.
O empregado pousou o pedido em cima da mesa e cruzou os braços, à espera. Envergonhado do seu aspeto, não quis ser reconhecido e de olhos baixos, rebuscou os bolsos de onde tirou dez euros amarrotados, que entregou. O troco materializou-se em cima da mesa, mas, por detrás do balcão, o “mal encarado” mantinha-se vigilante. Terminada a “refeição” saiu, sem fitar os empregados, para a rua, sentindo-se imediatamente mais aliviado.
Olhou os táxis imobilizados na praça e suspirou enquanto pegava nas notas e moedas que trazia no bolso. Descontados os bilhetes do comboio e da camioneta, restavam-lhe apenas cinquenta e poucos euros, do que conseguira roubar ao Vesgo, no último e traumático encontro que teve com a infame dupla. Encontro esse, que foi a causa da súbita vontade de regressar à sua terra natal.
Encolheu os ombros; o dia estava bom e cinco quilómetros fazem-se num instante, afinal, já fizera dois e tal entre da estação de comboios e a rodoviária e não sabia ainda o que o esperava em Pepim.
Conseguiu ainda reconhecer um ou dois rostos, mais idosos, como os do dono de uma mercearia e o de um dos taxistas, que lia o jornal sentado num degrau ao pé da viatura, mas fazia sempre por não os olhar diretamente.
Quase conseguiu desfrutar da caminhada pelo meio dos campos, após abandonar o arvoredo ladeava a estrada do planalto da vila. O sol começava a descer, quando avistou as primeiras casas da aldeia.
Passou pela rua Central, que outro nome não tinha, cabeça baixa, como que tentando esconder-se debaixo da mochila preta que trazia às costas. Não havia quase ninguém fora das casas, mas conseguiu discernir alguns habitantes, sentados nas varandas a aproveitar o ar que começava a refrescar e que se erguiam curiosos a ver “quem vem lá”.
Conseguiu chegar ao ponto mais alto da rua, o largo do Eirô e iniciar a descida para o local onde nascera, sempre através das recordações de infância, umas boas e outras más. A casa do João do burro aparentava estar vazia há muito tempo. A da ti Maria padeira tinha caído e à medida que avançava, a degradação era maior e havia mais casas arruinadas ou simplesmente abandonadas. Passou a última habitação do aglomerado central e já divisava o telhado e a parede amarela do seu destino. Sentia dor de barriga e tremiam-lhe as pernas, mas continuava a caminhar; como iria recebê-lo a mãe? Depois de tantos anos sem saber de nada, depois de ter roubado o dinheiro do Manel da mercearia e os brincos e a arrecada de ouro da Lucinda da igreja?
Só quando está a poucos metros de distância se apercebe do mau estado em que se encontra a janela que se divisava por cima dos esteios das videiras, em completo abandono. Do aspeto envelhecido da parede de onde já caíram pedaços de reboco. De frente, era ainda pior. As janelas e as portas entaipadas contavam uma história que escapava a todas as suas conjeturas, já não vivia ali ninguém há bastante tempo, a avaliar pelas ervas secas em volta, apenas cortadas à face da estrada, possivelmente pelos serviços autárquicos.
Ficou, estático, de boca aberta a rever cada contorno das portas das lojas, de cada janela apodrecida. Olhou em volta, desorientado. A casa mais próxima, à direita, estava reconstruida, lembrava-se que estava vazia na sua juventude, logo, não devia conhecer ninguém. Do outro lado, só a velha escola primária e mais longe, a caminho da igreja, o ti Luís da Serra e a ti Joana, se calhar ainda lá vive a Maria Alice, que não queria encontrar… pelo menos com o aspeto que tinha. Mesmo em frente à casa subia a rua das Roçadas, ladeada de pequenos casebres agrícolas e depois havia um pequeno tasco… tinha que perguntar a alguém. Que terá acontecido à mãe e à irmã?
Um automóvel passou veloz, ignorando-o, quase no meio da rua.
Após uns minutos de indecisão, tentou empurrar as portas a ver se alguma cedia.
— Eh lá! — Uma voz de mulher gritou do meio da ramada no terreno em frente à casa. — Que está a fazer?
Sobressaltado, Xico olhou em volta a tentar perceber de onde vinha a voz, até conseguir divisar a mulher oculta pelas folhas, atrás da rede que delimitava a propriedade em frente. Apurou a vista e reconheceu a dona Inácia, que vivia em frente à tasca. Continuava velha, esquelética e enrugada como sempre fora… talvez mais velha.
— Sou o Xico, dona Inácia! — Gritou-lhe de volta. — O filho da ti Maria da Luz!
— Ora quem havia de dizer! — A velha surpreendeu-se. — Tardaram-te as saudades, rapaz!
— Que é da minha mãe? E da minha irmã?
— A tua irmã foi-se embora para Lisboa há uns bons anos…
— E a minha mãe?
— A tua mãe… — A velha hesitou um pouco. — Mudou-se lá para baixo, para o cemitério. Levou-a uma pneumonia há quatro ou cinco anos.
Ele ficou como que petrificado. A mãe, pequena e magra, mas firme e dura como uma rocha, tinha morrido. Aquela mulher capaz de um beijo e de um tabefe quase de seguida, capaz de tirar o pão da boca para o dar a um filho ou a um amigo e ao mesmo tempo, enfrentar o mais mal encarado, armada apenas com um pau de vassoura. Fora-se para sempre.
Até já estava preparado para o chorrilho de insultos com que pensava que seria recebido, sentia-se ágil para fugir dos pratos que lhe arremessaria… mas ela não poderia mais dar-lhe os maus tratos devidos à ingratidão que ele sempre demonstrara e os justos castigos pelos crimes que cometia. A luz daquela mulher de aço, que nem os maus tratos do marido e as canalhices cometidas por filho e marido alternadamente conseguiram derrubar, apagara-se para sempre.
Nem agradeceu à dona Inácia, que acabou por desaparecer entre a ramada e voltar aos seus afazeres, enquanto ele, de olhos no chão, deixou que duas gotas pingassem no asfalto cinzento pelos anos. Sentindo-se demasiado pequeno para aquele mundo, olhou em volta para rua, que conhecia desde que se lembrava de ser gente, que antes parecera pequena, mas agora parecia interminável. O céu pintava-se de vermelho quando resolveu pegar na mochila às costas e continuar a rua.
Passou em frente à escola primária, agora reluzente, caiada de novo. Quando era miúdo, tinha alguns buracos e a tinta a descascar, mas estava repleta de crianças, agora se calhar já nem funcionava, mas estava nova. Mais à frente, o caminho de terra onde dera uma tareia ao João Luís, depois, o pomar do ti João, onde o Zé Gordo e o mesmo João Luís lha devolveram e não fosse aparecer o pai da Maria Alice, poderia ter sido bem pior. E a Maria Alice… a casa dela estava a seguir, a última, antes da junta de freguesia, os beijos que deram naquelas traseiras da casa, beijos e não só. Mas agora não queria que o reconhecessem; baixou a cabeça e estugou o passo.
Chegou finalmente ao cemitério. Olhou de soslaio a igreja onde fez a comunhão… como o pai estava bêbado nesse dia! Ele e a mãe gritaram um com o outro toda a manhã e mesmo a caminho da procissão. Quando chegaram àquele mesmo local, perdeu a paciência e gritou-lhes que se calassem. O pai deu-lhe um estalo com tanta força que quase o fez cair; a mãe ficou rubra e dessa vez não gritou, mas ameaçou alto o suficiente, entre dentes:
— Se voltas a bater no MEU filho, juro que te mato! Quando estiveres a dormir, sangro-te como a um porco, seu canalha!
A comunhão foi com as lágrimas nos olhos e uma mancha roxa na cara. As únicas duas fotografias que havia da procissão, Xico deu-lhes sumiço, logo que as apanhou à mão.
A mãe não cumpriu a promessa, claro, o pai viveu com eles mais uns meses mas, uma manhã saiu para trabalhar e não tornou. Deixou a mulher grávida, nenhum deles sabia ainda, mas oito meses depois nascia Luísa.
Empurrou a enorme porta de ferro do cemitério, que cedeu com um gemido. Estava aberta, não há perigo dos vivos quererem entrar, nem dos mortos quererem sair.
Não foi difícil encontrar a campa num local tão pequeno. Ali estava a mãe, uns anos mais nova do que se lembrava, mas era ela, sem dúvida. A lápide simples, branca com letras pretas, anunciava: “Maria da Luz Martinho Soares N:10-11-1963 F:25-2-2008” apenas isso, mais nada. Uma vida inteira resumida a um nome e duas datas gravados numa laje de mármore.
Pousou a mochila no chão, entre duas pedras tumulares e sentou-se acariciando com os olhos cada pormenor daquele rosto agora desaparecido. Pela segunda vez naquele dia, as lágrimas correram no rosto sujo, decorado com a barba por fazer, enquanto o remorso se unia à dor da perda e assaltavam aquele coração empedernido pelas muralhas do egoísmo, que começava a ceder aos poucos.
Recordou momentos que não lembrava há muito. O rosto dela próximo do seu, a ensinar-lhe as primeiras letras, a brincarem no empedrado da cozinha com pequenas figuras toscas de madeira, esculpidas pelo pai. Ela sorria. Ele não se lembrava de a ver sorrir.
Numa oração sem palavras, pediu perdão pelas vezes que a fez sofrer, pela dor que lhe causou, pelas vergonhas que a fez passar… pelas palavras que lhe disse e ela não merecia. Pousou a cabeça nos joelhos e chorou. Chorou pela mãe, pelo pai, pela família que não se conseguiu amar. Chorou por si próprio e pela sua vida desperdiçada.
Quando achou suficiente, ergueu-se e limpou as lágrimas à manga sebosa. Levantou a mochila para o ombro e abandonou os que descansavam para sempre, sem tornar a olhar para trás; aqueles que se foram, não precisam de nada mais de nós, não lhes serve de nada a pena, ou arrependimento, ou mesmo o amor. Muito menos amor, esse, deveria ter-lhes sido dado enquanto caminharam neste mundo.
Retornou a casa, assegurando-se que não era visto ao passar frente à da Maria Alice. O sol desaparecera completamente e o vermelho do céu dera lugar a um cinzento que gradualmente se tornava preto. As luzes da rua estavam já acesas quando chegou à habitação e uma vez mais experimentou as portas até que conseguiu entrar nas traseiras, na “loja” onde há muito tempo não dormia o burro que pertencera ao seu avô. O estômago rugia de fome, mas não queria ver mais ninguém hoje. Com o isqueiro, viu que o pequeno aposento estava transformado numa arrecadação com tralhas de todo o tipo, mas o melhor, era o velho colchão envolto em plástico encostado à parede.
Fez uma pequena fogueira, cercada por pedras, mais para iluminar do que para se aquecer e ali comeu umas sardinhas de lata, acompanhadas de umas bolachas de água e sal e uns golos de água. Era o farnel que lhe ocupava a mochila. Amanhã iria à mercearia comprar mais qualquer coisa, veríamos para o que dava o dinheiro.
Passou uma noite agitada. Os seus “amigos” Pinguinhas e o Vesgo, saíram das sombras para o atormentarem e ele reviveu o pesadelo que foi o último encontro com a dupla.
****
Quando saía do fétido cubículo, de que se apoderara no bairro do Aleixo e encarou com o Pinguinhas, que parecia mesmo andar à procura de alguém. Assim, que se encararam, passado o espanto inicial, Xico reagiu primeiro e saltou ao pescoço do facínora, que apertou com vontade, enquanto interrogava de dentes cerrados:
— Que fazes aqui, monte de m**?
— Ai! Deixa-me! — O outro gemeu apavorado. — Não ando a fazer nada, ia só a passar.
— Cabrão mentiroso! — O aperto do pescoço foi “enfeitado” com dois sonoros estalos no cachaço. — Que andas aqui a fazer?
— Nada! Já te disse que ia a passar! — O Pinguinhas começou a chorar. — Só vou visitar uma irmã da minha mãe que vive aqui!
— Cala-te, filho da p**! Tu não tens mãe, foste escarrado por um lixeiro! — Xico ergueu uma lâmina brilhante ao nível dos olhos da sua vítima. — Diz-me o que andas a fazer ou vazo-te as tripas aqui mesmo!
— Por favor, Xico! Eu não fiz nada! Viste que era sempre o Vesgo quem te fazia mal! — Ele soluçava, desesperado.
— Quem te mandou aqui! Diz-me, desgraçado! — Perdida a paciência, atirou-o ao chão e pontapeou-o sem dó, por várias vezes. Depois debruçou-se e encostou-lhe a navalha ao pescoço. — Vou cortar-te essa cabeça horrível e pendura-la lá fora.
— Espera! Não! Espera, não faças isso! — As mãos esbracejavam tentando afastar o agressor, enquanto gritava esganiçadamente. — Foi o Manel Preto! Foi ele que disse ao Vesgo para te virmos buscar! Disse assim: “O ‘panascas' do Xico está escondido no Aleixo. Vão lá buscar o dinheiro que ele me deve pelo ‘trabalho' da ribeira, ou tragam-me o couro dele para esfolar.”
Xico estacou por uns segundos, ainda com a arma a ameaçar o Pinguinhas e depois, num movimento rápido, fez-lhe um corte na palma da mão. Depois presenteou-o com mais dois pontapés.
— Desaparece-me daqui, monte de m**, antes que te esfole! — Expulsou-o, virando-lhe as costas.
Tão logo ouviu o facínora “correr como se não houvesse amanhã”, lançou-se ele próprio para dentro do cubículo de onde saíra, para pegar nos seus parcos pertences. Se o Vesgo andava por ali, a sua saúde, se não a vida, estava a correr um grande risco.
Com os braços cheios de roupas e cartões, preparava-se para abandonar o edifício quando viu o enorme corpanzil do Vesgo a dirigir-se para ele. Depois do pânico inicial, percebeu que não fora visto e desatou numa corrida pelas escadas acima.
*** Fim da 5ª parte ***
|
|






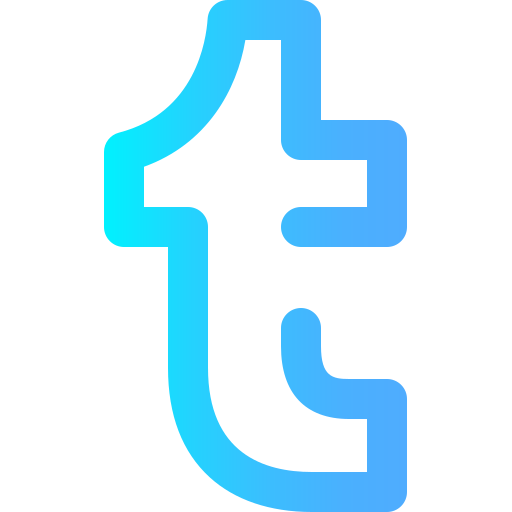



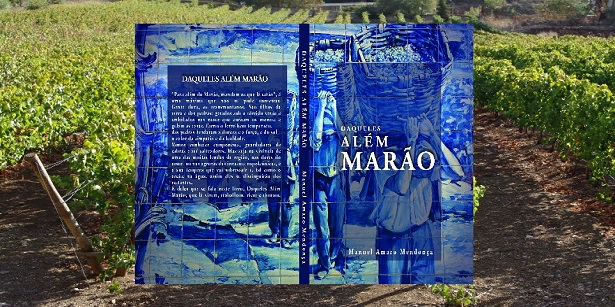


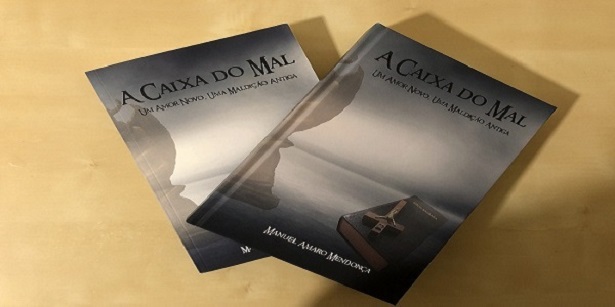

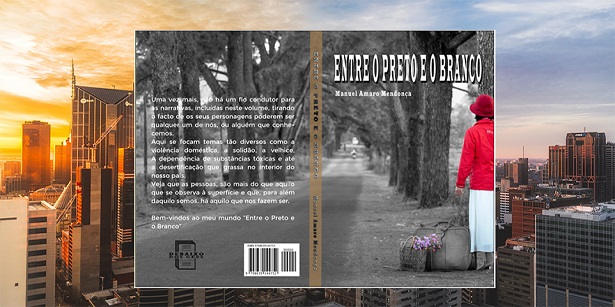


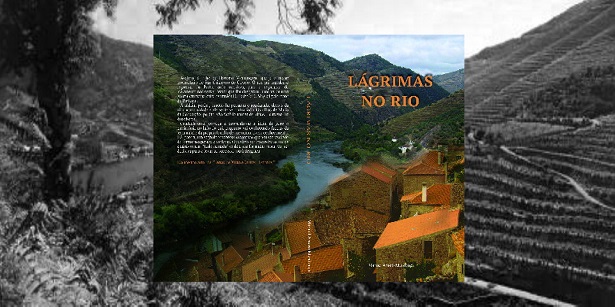

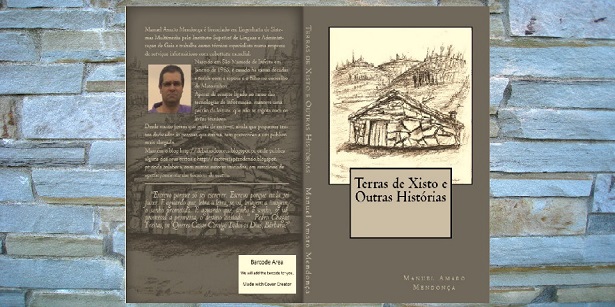

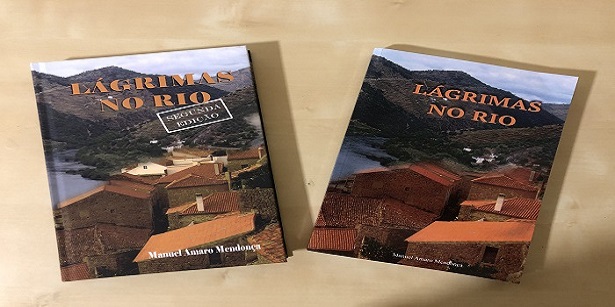








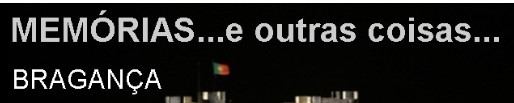





0 comments:
Enviar um comentário